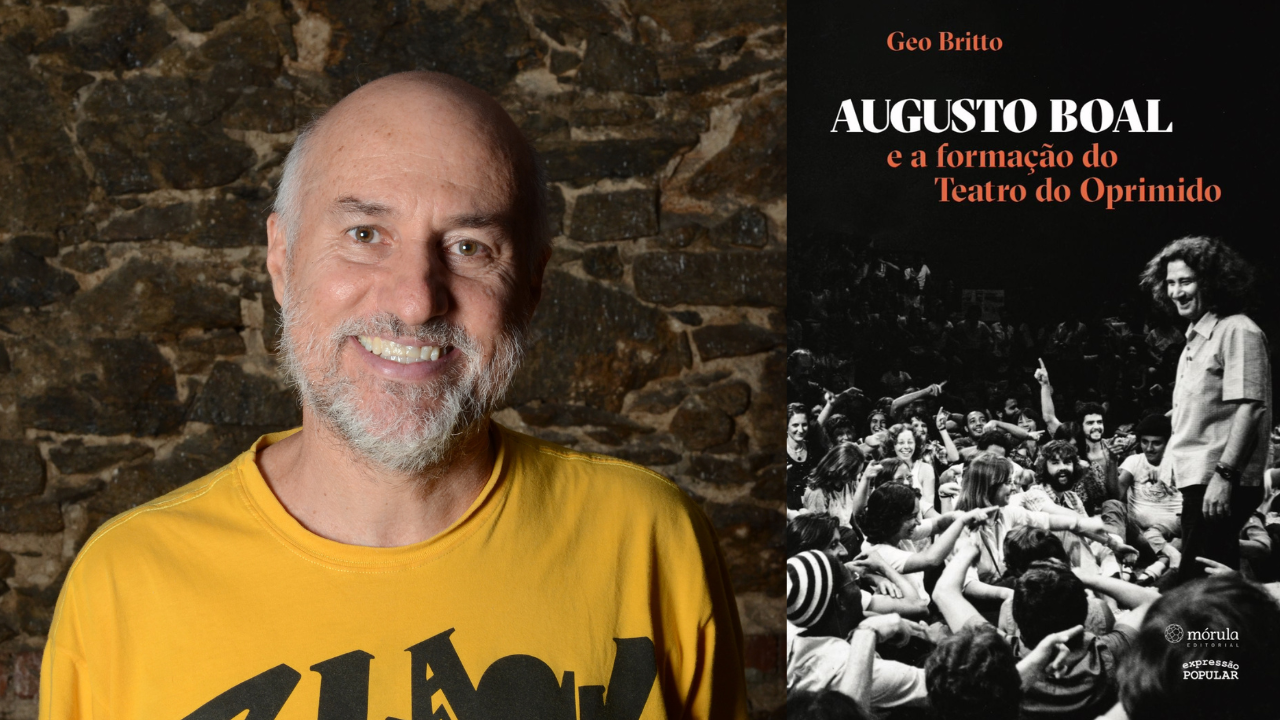Os índices de violência doméstica e discriminação racial no país não param de crescer. Dados apurados apontam que os índices mais altos são de violência contra mulheres e negros. Segundo o Mapa da Violência de 2015, organizado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Neste ano, a Lei Maria da Penha (Lei 11.340, de 2006) completou 15 anos, e mesmo considerada uma das três leis mais avançadas do mundo pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (Unifem), os índices continuam altos no país. A Flacso também apresenta outra realidade brutal, os resultados do Mapa da Violência 2014, que levam em consideração dados oficiais do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde, contabilizou 30 mil homicídios de jovens de 15 a 29 anos em 2012, sendo 77% jovens negros.
Maiara Carvalho (26), pedagoga, Alessandro Conceição (38), jornalista, Manu Marinho (31), educadora social, e Panmella de Jesus (30), artista multidisciplinar, refletem sobre a vivência do racismo e do machismo no cotidiano. Panmella revela que sente muito medo, “eu tenho pesadelos brigando com homens”. Morando no bairro da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro, ela conta que se deparou com símbolos nazistas pichados em duas ruas do bairro, “eu sou uma mulher negra que ando pelas ruas com a certeza de que posso morrer a qualquer momento”. As estratégias para se manter segura e viva são diversas e vão desde se negar a sentar ao fundo dos ônibus, passando por evitar ruas desertas, restringindo-se a locais predominantemente masculinos, além de pensar mil vezes na roupa que veste antes de sair. “Eu compartilho todas as minhas viagens de Uber”, lamenta ela preocupada.
“Eu tinha muito medo de ser preso, e meu desejo de fazer faculdade tinha ligação com isso. Depois eu entendi que esse medo era social”, comenta Alessandro. Ele destaca que foi educado pela família a andar sempre com documento na carteira e relaciona a prática a resquícios do Brasil escravocrata. De acordo com o Atlas da Violência 2020, a polícia fez 5.804 vítimas em 2019, e 75% eram negros. Entre policiais, o número de mortos é superior quando se trata de negros, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 65,1% dos policiais assassinados são negros. Alessandro apresenta a negação ao racismo como uma tática usada por parte da sociedade para manutenção inventora da democracia racial brasileira. Mestre em Relações Étnicos Raciais pelo CEFET-RJ, ele faz uma correlação entre a ilusão vendida à homens negros com o genocidio de seus filhos afirmando que “a ilusão que deram à homens negros nos mata”. Ele percebe que parte das famílias negras de classe média se ascenderam socialmente através das forças armadas. “Na guerra do Paraguai, colocavam os homens negros no fronte prometendo à eles liberdade. Morríamos com a ilusão da liberdade”, diz ele. A reflexão constata que mesmo pós-abolição existem muitas restrições à homens negros, como por exemplo não poder andar sozinho nas ruas, “até a década de 70, o segundo maior índice de presos nas delegacias dos Rio eram por vadiagem”, ou seja, homens negros andando sem documento de identificação.

Conceição conclui que “a massa, ou seja, os corpos dos cabos e soldados, principalmente das policias militares, são de homens negros. Foi a forma que parte deles encontraram para se ascenderem”. Ele utiliza a metáfora da arma como objeto de poder cedida pela estrutura ao homem negro, porém, ele afirma que “eles acreditam que esse psdeu privilegio tornam eles mais humanos que as mulheres, principalmete as mulheres negras”.
A população negra do país continua sendo assassinada, enquanto as mulheres continuam sendo violentadas. Raça e gênero interseccionam uma realidade violenta no Brasil. Manu Marinho reflete sobre o processo de subnotificação da violência contra mulher no Brasil e avalia a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a tese de legítima defesa. “Era aceitável que as mulheres fossem violentadas das mais diversas formas. Apenas este ano (2021), o STF decide ser inconstitucional a tese da legítima defesa da honra”, ou seja, a educadora fala do argumento utilizado em tribunais de que um homem assassinou uma mulher para defender a sua própria honra. Em 2021, o argumento foi considerado inconstitucional em casos de feminicídio. Ela afirma, “ao mesmo tempo que isto demonstra que estamos avançando na luta por direitos, escancara o quanto estamos longe de alcançar o mínimo de seguridade para a vida das mulheres, sobretudo, para as mulheres mais pobres, negras e indígenas”.

Como defende a educadora, a ascensão dos discursos de ódio no país se dá logo após o golpe de 2016, que retirou a ex-presidenta Dilma Rousseff do cargo público mais importante do país. “Após o golpe jurídico midiático vemos a ascensão da figura de Bolsonaro; um indivíduo que reafirma os ideais de manutenção de poder das elites nacionais. Homens, brancos, ricos; os mesmos.”. Ela completa com um exemplo concreto, “Ora, se o presidente pode xingar mulheres em rede nacional, por que eu não posso?”.
Maiara revela com revolta o assassinato de sua prima Idalia Souza Carvalho, que foi vitima de feminicidio aos 42 anos pelo seu ex-marido. “Quando a gente decide não estar mais com um cara, ele se sente no direito de nos matar”, relata ela que cresceu em Queimados, cidade da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Ela conta que foi criada assistindo homens matarem mulheres e as enterrarem no quintal de casa. “Até hoje não encontramos o Gerônimo, o cara matou ela a facadas e sumiu” , diz ela com tristeza. A violência cruel se estendeu para dentro de casa e ela não rendeu esforços para denunciar o pai abusivo, mas encontrou no processo ainda mais barreiras. ‘Tem certeza que deseja denunciar?’ e ‘Ela não vai voltar com ele?’, foram questionamentos feitos na delegacia. Eram tantas dúvidas que ela e a mãe saíram do corpo de delito se sentindo culpadas pela violência que sofreram.

No livro “O que é interseccionalidade?”, a pesquisadora Carla Akotirene explica que o termo ganhou espaço a partir de uma palestra em 2001 realizada por Kimberlé Williams Crenshaw na África do Sul. Em entrevista concedida a Justificando em 2019, Akotirene explicou que a interseccionalidade se constitui enquanto ferramenta crítico-política que “visa dar instrumentalidade teórica-metodológica à inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cis-hétero-patriarcado”. Ela afirma que o termo “demarca o paradigma teórico e metodológico da tradição feminista negra, promovendo intervenções políticas e letramentos jurídicos sobre quais condições estruturais o racismo, sexismo e violências correlatas se sobrepõem, discriminam e criam encargos singulares às mulheres negras”.
O termo interseccionalidade tem se tornado popularizado nos últimos anos através das diversas vozes de pensadoras negras brasileiras, mas ele foi cunhado na década de 80 para expressar as diferentes formas que os marcadores sociais – gênero, raça, classe, sexualidade, entre outros – interagem impactando indivíduos em sociedade. No Brasil a realidade de Manu, Panmella, Alessandro e Maiara dialoga cotidianamente com o conceito acadêmico.
Diante disso, entendendo que o machismo e o racismo são responsabilidade da sociedade, Alessandro comenta que na cultura massificada o exercício da violência é constituído como “direito”. A educação vista por ele, principalmente destinada aos homens, é extremamente violenta. “Na nossa educação a gente ainda valoriza quem dá uma porrada bem dada, inclusive que leva à morte, acreditando que isso é exercício de masculinidade (de homens), logo, de humanidade”. Maiara comenta que a maioria dos homens são criados por mulheres, uma parte significativa por mulheres solos, ela questiona “como eles são capazes de nos matar tantas vezes quando somos nós que estamos a construir suas próprias vidas?”. Para avançar sobre a questão, Manu afirma que é preciso reconhecer o problema. “Eu acredito que, enquanto indivíduos, a primeira e mais urgente contribuição, como diz a Liviana Bath, é que as pessoas brancas parem de negar que existe racismo. Enquanto houver pessoas brancas negando a existência desse sistema estrutural que matou e continua matando pessoas negras e indígenas ao redor do mundo, não será possível encarar o problema como de fato devemos”. Fica evidente que o processo de avanço social depende de distintas pessoas, práticas e coalizões, mas o discurso precisa virar prática. Panmella é categórica sobre a parceria dos homens na luta anti-machista, “é muito discurso e pouca ação, precisamos de mais” e completa “pessoas brancas precisam exercer uma escuta verdadeira”.
Matéria realizada na disciplina Redação em Impressos da professora Joelle Rachel Rouchou durante o curso de Jornalismo da FACHA.